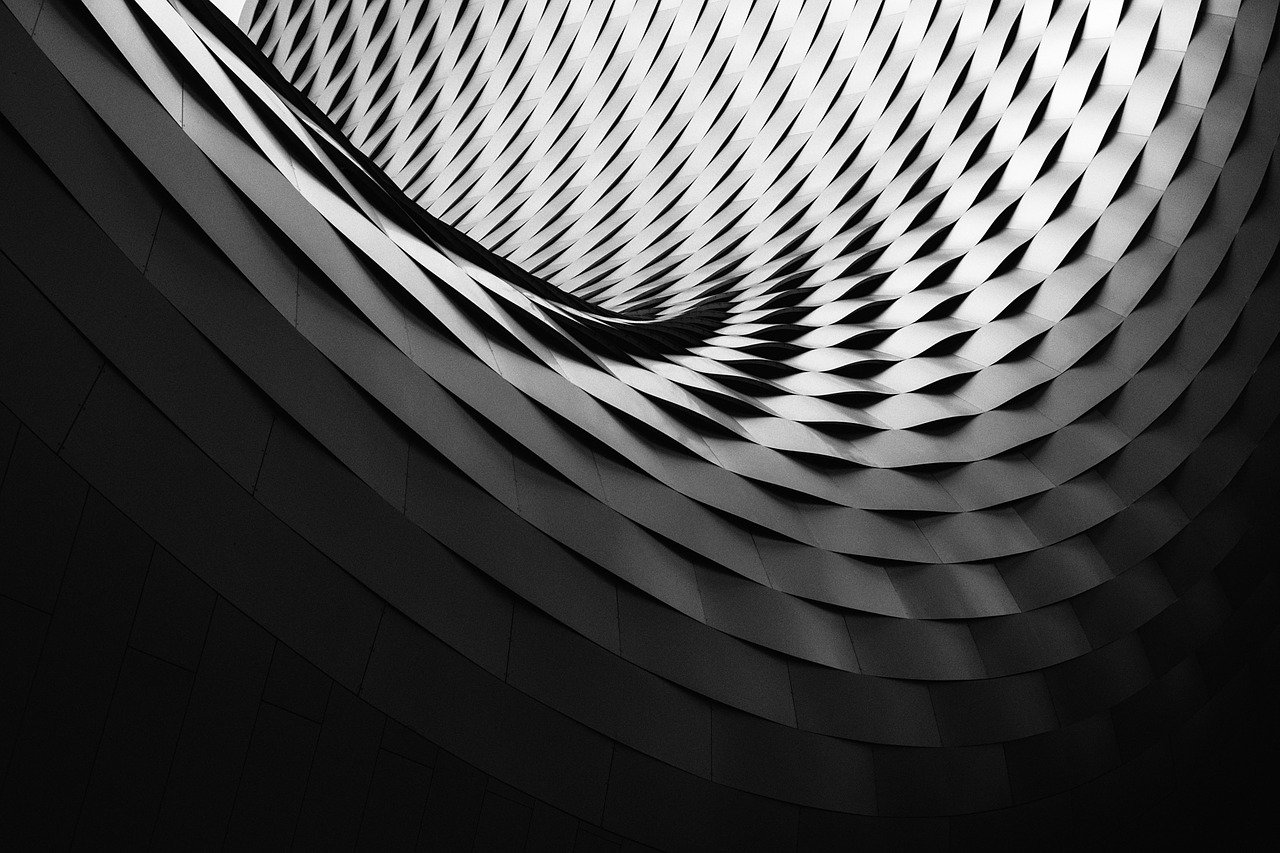Em muitos meios aparece, eterna, a questão da sustentabilidade das pensões. Afirma-se, de certas perspetivas, que o Estado de bem-estar não será sustentável e que a boa vontade dos jovens (e das jovens, embora estas quase sempre sejam deixadas de lado) não terá recompensa no (seu) futuro. E sobre isto podemos discutir e argumentar muito, como por exemplo que as alternativas propostas se aproximam de posições privatizadoras, mas hoje estou terrivelmente cansada. Estou terrivelmente cansada destas posições que insistem em limitar o público, aquilo que tanto nos custou conquistar e que agora surge espremido e até demonizado. Neste cansaço, neste cansaço específico, o que realmente me pergunto é se o que não é sustentável é a vida que levamos.
Talvez seja o cansaço que me leva à pergunta, mas a habitação está cada vez mais cara, a minha cidade está mais cara e cada vez mais inabitável. Tudo é mais caro e pergunto-me como pensam esses senhores que conseguiremos poupar para a reforma e por que se pretende impor esse mecanismo. O custo do cabaz de compras sobe, mas não necessariamente os salários (não digo aqui nada de novo). Vou mais além: os preços sobem ao mesmo tempo que aumentam as exigências sociais (ser magro e jovem, ser desportista, ter sucesso no trabalho e, se possível, até um pouco mais alto) e laborais (ama o que fazes para nunca teres de trabalhar!), mas o certo é que os desejos se tornam crónicos e as forças esgotam-se. Não falo só de mim. Falo também de tantas pessoas que, mesmo tendo chegado a uma idade avançada, continuam a perguntar-se se esta vida — tal como está organizada — é realmente vivível. Porque, para além dos números sobre esperança de vida, que não pararam de crescer nas últimas décadas (felizmente, mesmo com a contestação de alguns), a pergunta que deveríamos fazer com urgência é: como vamos viver esses anos adicionais? Também com exigências e desgostos?
Dizemos, com uma mistura de admiração e vertigem, que vamos viver mais. Que é uma sorte. Que o difícil é garantir que esses anos sejam de qualidade, de saúde, de autonomia. Que temos de “nos preparar” para uma vida mais longa. E esquecemo-nos de nos perguntar se estamos coletivamente preparados — não apenas economicamente, mas política, cultural e emocionalmente — para essa vida prolongada. Pergunto-me isso partindo daquela espécie de culpabilização “privatizadora” que parece espalhar-se como uma mancha de óleo.
Porque a sustentabilidade das pensões, sendo importante, não é mais do que um fragmento do todo. E a sustentabilidade da vida quotidiana? E dos vínculos sociais num contexto de jornadas intermináveis? E dos espaços urbanos, tantas vezes desenhados de costas para os mais velhos, para a infância, para a deficiência? E dos tempos impostos por um mercado laboral onde tudo caduca depressa e se exige estar sempre disponível?
Diz-se que os sistemas públicos “não aguentam”. Que o envelhecimento é um problema. Que não há jovens suficientes para sustentar os mais velhos. Mas raramente se questiona que talvez o problema não seja tanto viver mais, mas viver mal. Viver num sistema que vê a longevidade como despesa, um encargo, um desafio técnico ou contabilístico, e não como uma oportunidade para repensar o pacto social e reorganizar os recursos e os cuidados.
Perante esta queixa tão difusa, poderiam perguntar-me (com razão, claro, porque se te queixas, o que propões?) como seria, para mim, uma sociedade verdadeiramente sustentável em tempos de longevidade. E, se há algo de que não me falta, são opiniões.
Na minha perspetiva, sustentável seria uma sociedade em que envelhecer não fosse sinónimo de irrelevância ou vulnerabilidade. Uma sociedade em que os anos vividos acrescentassem direitos à experiência, e não medos sobre como irei “aguentar” economicamente os anos que me restam. Seria uma sociedade onde se valorizasse a experiência acumulada e a própria existência, sem mais. Onde a substituição geracional não fosse uma guerra encoberta, mas uma conversa entre pessoas de diferentes idades, com as suas diferenças e semelhanças, honesta e enriquecedora, alimentada pela busca de soluções para objetivos comuns. Uma sociedade que não se limitasse a prolongar a vida, mas que se preocupasse em “alargá-la”, torná-la mais habitável, mais justa, mais (e melhor) partilhada. Por todos, por todas, independentemente da idade.
Seria, ainda, uma sociedade que distribuísse de forma mais equilibrada os tempos de trabalho, de cuidado, de lazer e de aprendizagem. Porque, se vivermos mais, talvez devamos também repensar como se distribui o esforço e as contribuições ao longo da vida. Talvez possamos trabalhar mais anos, sim, mas de outra maneira, mais satisfatória. Com mais pausas, com mais (e melhor) formação, com mais espaços para cuidar e sermos cuidados. Para cuidarmo-nos. Com melhor tratamento e menos sofrimento. Uma forma que nos permita compreender que tirar uma baixa não é “uma falta”, que não seja um peso pessoal, que não nos faça sentir culpados por não contribuirmos o suficiente ou por “perdermos posicionamento”. A sustentabilidade, neste sentido, não é uma folha de Excel ou um lançamento contabilístico com “deves e haveres”, mas a resposta a uma pergunta ética sobre como queremos viver e acompanhar-nos. Entendo que também é uma resposta política, mas, sobretudo, deve partir do individual, para que possamos acreditar nas potenciais transformações.
Seria, além disso, uma sociedade que não medicalizasse o envelhecimento como se fosse uma doença, nem o convertesse numa trincheira de despesa sanitária. Sabemos (ou devíamos saber) que grande parte do que determina a nossa saúde não acontece nos hospitais ou centros de saúde, mas sim na habitação, no transporte, nos ambientes sociais e urbanos, na qualidade do ar, na alimentação. A longevidade não se sustenta com mais comprimidos, mas com melhores políticas sociais, mais vínculos, mais e melhor acessibilidade no meio. Mais comunidade. Mais sociabilidade.
A pergunta sobre a sustentabilidade é, no fundo, uma pergunta sobre o rumo que queremos tomar como sociedade — e também como indivíduos. Que sentido faz acrescentar anos à vida se não acrescentarmos vida a esses anos? Que sentido faz pedir às pessoas que poupem mais para a velhice se não garantimos não só que possam fazê-lo, como também não asseguramos condições dignas no presente? Que sentido faz viver mais, se o fazemos em cidades hostis, em mercados de trabalho excludentes, em relações marcadas pela competição e pela autoexigência? E que rumo queremos, afinal, tomar enquanto sociedade?
Voltemos, para terminar, à imagem do cansaço. Talvez não seja um sintoma individual, mas um sinal coletivo de que precisamos de certas mudanças — e não apenas relacionadas com o modelo de financiamento. Porque há algo profundamente insustentável neste modo de vida que nos exige ser eternamente jovens, produtivos, disponíveis e autossuficientes.
Talvez viver mais não consista tanto em prolongar a corrida como em mudar de direção. Em aprender a sustentar-nos mutuamente. Em ressignificar a longevidade como um bem comum, e não como uma ameaça. Em deixar de temer a velhice como um declínio e começar a construí-la como uma etapa valiosa, ativa, criativa e digna.
Porque a sustentabilidade não devia ser apenas uma palavra que acompanha relatórios económicos ou estratégias climáticas. É também uma forma de cuidar do que importa, que são, para mim, as pessoas que compõem aquilo a que chamamos “sociedade”. É também uma pergunta sobre os vínculos, as cidades, as políticas e as narrativas que tornarão possível que tenhamos vidas mais longas, sim, mas também boas e dignas de serem vividas.
E isso —agora que penso nisso, mesmo cansada— não é pouca coisa.